Até um mês atrás, acho até que com razão, muita gente acreditou que Lula buscaria reconciliar-se com os economistas de quem se distanciou na década passada. Em que pese qualquer crítica de que tenha sido alvo durante a campanha, era o que sinalizava a escolha de Alckmin para vice-presidente. É difícil dizer até que ponto a estreita margem de votação que o elegeu pode tê-lo tornado mais propenso a políticas de orientação populista. A verdade é que Lula e o PT, de pouco em pouco, frustram aqueles cuja expectativa era a de que fariam um governo de perfil moderado.
Embora eu acredite que nada de muito elucubrante deva sair da cabeça de Fernando Haddad, o fato é que a preferência por um petista no cargo a que foi designado mantém suspensa uma nuvem negra sobre o futuro das contas públicas brasileiras. Até o momento, não está claro que tipo de política fiscal se deseja adotar. Apenas que à nova administração interessa ampliar “gastos sociais”. É, no mínimo, exótica essa aparente simpatia de Lula pela transgressão de regras fiscais cujo respeito, mesmo que parcial, lhe permitiu, no passado, empregar as políticas de transferência de renda que, por duas vezes, o permitiram reeleger-se presidente. Enquanto os acadêmicos ao redor dos quais o PT vive cercado parecem enxergar no teto de gastos a síntese do nosso atraso, pouco se discute o que o tornou necessário.
A despeito da rejeição de que é alvo, o que se quis com a aprovação do teto foi dar maior previsibilidade aos gastos públicos. Ainda que associadas à trajetória da dívida pública, é na falta de impulsos econômicos conducentes à disciplina fiscal de onde normas como a EC 95 extraem seu fundamento teórico mais expressivo. Por mais úteis que possam ter sido as políticas “anti-cíclicas” das quais o governo federal fez uso em 2008¹, a sua eficácia, além de marginalmente decrescente, demanda de quem as aplica cuidados de extrema importância.
Através de uma identidade frente à qual não se encontra oposição fora do terreno do grotesco, a estabilidade endógena da dívida pública é matematicamente definida pela diferença entre o que o poder estatal arrecada e quanto representam seus gastos primários. Desde que a senhoriagem de que desfrutavam os governos anteriores ao Real foi suprimida a nada, nossa dívida pública passou a não mais ser determinada pela expropriação do poder aquisitivo da moeda, mas pelo respeito das autoridades constituídas às restrições que a sociedade lhe impõe sob a forma tributos.
Apesar de intuitivo, esse “republicanismo fiscal” em favor do qual eu e vários economistas advogamos não costuma ser bem recebido pelos partidos. Talvez pela urgência das demandas sociais a que se subordinam seus mandatos, membros da classe política parecem sempre mais inclinados ao gasto que à poupança. Em teoria, nada tem de errado no combate às injustiças de que se é alvo no curto prazo. O problema é que as boas intenções de onde se origina essa nossa elevada propensão marginal ao gasto, além de tendentes à estagnação, podem piorar a distribuição de renda mesmo no curto prazo.
Digo sempre que para cuidar do povo pobre é preciso ter muito coração; a gente não cuida do pobre se ficar olhando dados estatísticos, se ficar olhando a política fiscal do governo.
– Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, em um dos seus discursos proferidos no dia 15 de dezembro de 2022.
Por uma regrinha que se aprende nos livros, a sustentabilidade da dívida pública depende da sua relação com o produto total da economia. Se pela ação benevolente da autoridade política se decide que o contribuinte terá seu dinheiro destinado a fazer caridade, o agravamento do risco a que se vincula a remuneração dos títulos de longo prazo não só enxugará a liquidez do mercado acionário, como incentivará as aplicações regressivas a que geralmente se associa o “rentismo”. Para resolver o subfinanciamento a que o aumento dos juros submete os projetos de investimento privados, o PT costumava utilizar o BNDES como alternativa de second best. Pelo que se tem visto até aqui, não acho que o poder político, em detrimento das grandes empresas a que direcionava crédito, mudará sua postura para os próximos anos. Em proveito de empresários ricos com condições de se capitalizar no mercado privado, tendo a achar que retornaremos à velha política de subsídio que onera o custo do capital das pequenas e médias empresas.
O ângulo através do qual melhor se verifica o efeito deteriorativo dos gastos públicos sobre a taxa de investimento reside na poupança doméstica. Por simplificação, e com o objetivo de não alongar o texto além do necessário, resumirei a três as consequências da “despoupança pública”: descapitalização da iniciativa privada, desancoragem das expectativas e depreciação cambial. Com calma, e nessa ordem, explicarei uma a uma.
É interessante como as sínteses contábeis a que levam os “fundamentos econômicos” fornecem substrato algébrico para que da mais básica sabedoria nesse domínio floresçam novos e sofisticados saberes. De todas as conclusões de que deriva o pensamento macroeconômico, é na igualdade entre as taxas de poupança e de investimento onde essa realidade se expressa em sua forma mais contundente. A nenhuma sociedade é facultado investir mais do que poupa, e sempre que o poder público gasta além do seu limite, os particulares, induzidos pela emissão de rentáveis títulos de dívida pública, desviam poupança privada dos investimentos e a redirecionam ao custeio do governo.
A compressão dos empreendimentos privados em que pode resultar o aumento dos gastos públicos (crowding out) está conectado ao dever institucional do Banco Central, a quem se encarrega a estabilidade monetária. Assim como em todas as demais economias de que se tem conhecimento neste planeta, existe na brasileira uma taxa de desemprego não inflacionária em torno do qual oscila o desemprego efetivo. Em contraste com o último, a NAIRU, como foi apelidado o “desemprego natural”, movimenta-se muito pouco.
Por mais controverso que isso possa soar, suspeito que essa rigidez se explica, em parte, pelo regime democrático e seus desafios no âmbito da governabilidade. Não quero com isso insinuar, de jeito algum, a existência de um trade-off entre emprego e democracia. Ao contrário, a cada dia que passa se solidificam na literatura mais e mais teorias que associam progresso econômico ao caráter inclusivo das instituições. O ponto é que diversamente do desemprego que conhecemos e cujas causas a que está ligado permitem ao governo manipulá-lo fiscalmente, a queda da NAIRU, por necessitar de reformas microeconômicas de difícil aprovação, vive sendo varrida para debaixo do tapete. É nesse estranho cálculo político onde se aninha o “ovo da serpente” do populismo. Como a nossa lista do que fazer nos campos trabalhista e creditício vive meio escanteada da agenda política, o desemprego que alinha a inflação corrente à esperada é mantido estruturalmente acima do nível que equilibra a popularidade do presidente. É em cima dessa equação onde se deitam as raízes do vício em políticas de estímulo germinadoras de inflação.
É curioso que, do ponto de vista matemático, o aumento do juro doméstico emanado da expansão dos gastos públicos tenderia, ao menos preliminarmente, a apreciar a taxa de câmbio. Mas não é isso o que se vê. A razão para que o aperto monetário não fortaleça o Real ante as demais moedas está no coeficiente de risco. Por convenções contábeis consagradas pela historiografia e em relação às quais não se observa, até onde sei, qualquer tipo de contestação no limite do razoável, embora o aumento dos gastos públicos produza, de fato, um efeito apreciativo sobre o Real, este acaba suplantado pela depreciação cambial vinda do descontrole da dívida pública.
Embora não exista dentro do regime de câmbio flutuante uma taxa cambial “ruim”, a depreciação, pelo mesmo motivo que desajusta as contas externas no curto prazo (ver curva J), é imediatamente refletida nos preços domésticos de que dependem os brasileiros mais pobres. Veja, não quero ser eu a anunciar a ineficácia de políticas assistencialistas em países de inflação alta. Contudo, face à rápida disseminação da retórica que enquadra ao “mercado” os velhos rótulos a que esteve sujeito nos anos oitenta e noventa, me sinto na obrigação de informar que, mesmo no curto prazo, são duvidosos os benefícios do voluntarismo a que é movido este novo – e potencialmente inflacionário – Bolsa Família.
Nada disso quer dizer, porém, que a regra do teto não deva ser reformada. Na verdade, a fim de que se restitua à política fiscal o seu poder de harmonização do business cycle, é provável que, no futuro, tenhamos que reconstruí-la sobre novas bases. Mas até lá, qualquer tentativa nessa direção deve estar balizada pela recuperação dos superávits primários a que Dilma escolheu renunciar em benefício do seu programa de reindustrialização. Não é, e nem nunca foi, o teto de gastos de Michel Temer que inviabilizou a expansão dos programas sociais propostos por Lula, mas o risco de calote em que redundou a dívida pública e o déficit nominal deixados pelo PT.
No lugar de substituir o teto de despesas primárias por um que lhe permita gastar além da inflação, o governo deveria resgatar o orçamento público dos interesses corporativos que o raptaram. Após termos passado décadas dando reajuste real aos servidores, nós chegamos a uma situação na qual mais de 90% dos recursos de que temos à disposição para fazer política pública são consumidos pelos gastos obrigatórios². Em uma linguagem mais coloquial, para recolocar o pobre no orçamento, é preciso desprivatizá-lo. E isso significa, em última análise, desapropriar dos mais ricos o quinhão de que se apossaram. É hora de devolver o Estado a seus dependentes. Embora fosse possível, através do arrocho das despesas obrigatórias, conciliar a ampliação do Bolsa Família à credibilidade do teto de gastos, é difícil de imaginar que a solução possa vir de quem fez parte do problema.
À vista, na proporção em que faltam certezas, sobram desafios. Pelo que se viu até o momento, não espero de Lula que faça uma administração muito melhor que a de Dilma. Não obstante, por mais rocambolescas que venham a ser as suas decisões na área econômica, restará sempre a seus apoiadores o copo meio cheio das eleições: Bolsonaro foi derrotado. E do ponto de vista civilizatório, nada do que o PT fizer à economia poderá ser tão lesivo ao país quanto nos teria feito reeleição de um presidente que rejeita a democracia. Por uma ironia do destino – e, aqui, me permito fazer a provocação –, é possível que a esquerda nos tenha salvado de um futuro semelhante ao que o chavismo reservou à Venezuela. Quem diria?
.
Notas:
1 – Na época em que eclodiu a crise financeira de 2008, o Brasil vinha de uma longa trajetória de queda da dívida pública e encerrou o ano com um resultado primário de 2,3% do PIB e um nominal de -0,8%. A situação era diferente de quando aprovamos o teto de gastos. Em 2016, segundo o Tesouro Nacional, o governo fechou o ano com déficit primário de -2,5% e nominal de -7,6% do PIB. Embora se tenha proposto coisa parecida, o fato é que, na carência das condições fiscais necessárias, não era possível expandir o gasto público.
2 – O orçamento público acomoda duas modalidades de despesas: as discricionárias e as obrigatórias. As discricionárias são aquelas que, de um modo geral, se destinam a políticas sociais (educação, saúde, segurança pública). Os gastos obrigatórios – que, segundo o Instituto Fiscal Independente, se aproxima dos 95% – cobrem o pagamento da dívida pública e encargos, benefícios previdenciários e remuneração do serviço público.
.
Leia também:
Os subsídios COLOSSAIS do governo brasileiro
2011–2020: o retrato de mais uma década perdida
A Nova Matriz Econômica e seus efeitos
A nova âncora fiscal brasileira na ponta do lápis



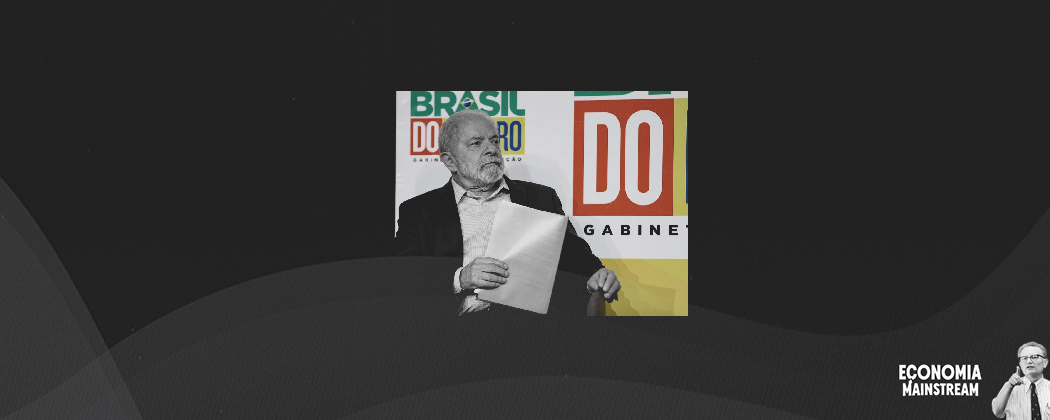







Deixe um comentário